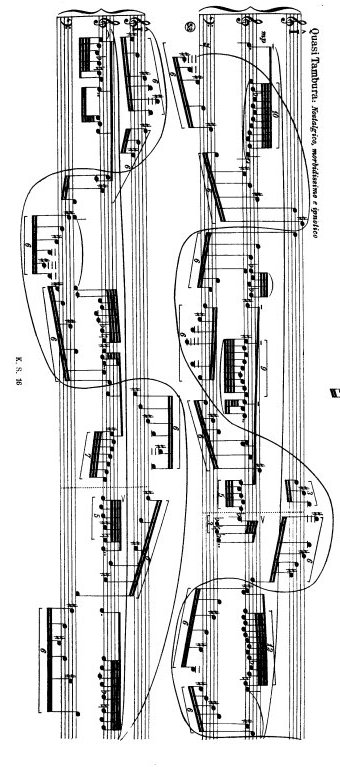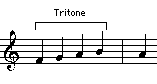Por Marcelo Coutinho
Dedico esta entrevista ao raciocínio nômade
e sempre generoso de Clylton Galamba.
Em publicação anterior, meu texto a respeito de Lawrence Jakimo Pokot foi amplamente mutilado e o pouco que sobreviveu dele ainda sofreu sérios erros de editoração[1]. Naquela ocasião, apresentei-o como sendo um “místico” que muito havia influenciado a construção de minha obra. Aplicar a ele tal definição, porém, não tratou-se de qualquer erro editorial: foi de minha inteira responsabilidade.
Não conhecia o suficiente as atividades deste homem, e tentava vê-lo, compreendê-lo sob a curta ótica e o parco instrumental que naturalmente nos caracteriza, nós, cristãos, ocidentais. Para culturas tão estranhas í nossa, tão mais antigas e tradicionais como aquelas que hoje compõem o Quênia, o termo “místico”, tal qual o entendemos, precisaria englobar outras áreas do saber, como a medicina, a química, a psicologia e a filosofia. Levando em conta que este, digamos, sábio, é consultado para aprovar ou vetar o traçado urbano, indicar a cor das portas e a melhor combinação de vizinhos na aldeia, somos levados a pensar que este homem poderia também ser considerado urbanista, arquiteto e assistente social, ao mesmo tempo.
Quando encontrei L.J. Pokot aqui, no Recife, durante o carnaval de 1998, hospedado no Hotel Central, foi este termo, “místico”, indevidamente aplicado í ele, que deu início a nossas conversas. Eu passava por um dos períodos mais difíceis de minha vida. Os ruídos vindos da rua em orgia só tornavam minhas dores mais desproporcionais. Eram dores do espírito, aparentemente imateriais, mas que por vários momentos manifestavam-se nas juntas de meu corpo e em vertigens inauditas.
Foi quando recebi na casa de meu amigo, o crítico literário Anco Márcio Tenório Vieira, o telefonema de um outro velho amigo, o físico Vinícius do Vale Navarro, paraibano de João Pessoa, hoje professor de astrofísica na Universidade de Cambridge: Pokot chegara ao Recife duas semanas antes do início do carnaval.
Nas condições em que me encontrava, mergulhado em uma estranha e macabra euforia, sinal típico de uma vindoura depressão, não seria de espantar que a imagem de Pokot tivesse sido tão recorrente em mim, mesmo que não soubesse deste seu novo arroubo em visitar o Brasil. Afinal, era este homem que tratava em suas palestras da necessidade de voltarmos a ver na dor e na adversidade não o fim, mas a oportunidade de verificar a passagem. Porém, o fato é que quando soube da presença física, real, de L.J. Pokot na cidade, atribuí a isso uma aura mágica. Um doce ditame do acaso. “Deus não joga dados”, pensei.
Pokot já havia estado no Brasil por várias vezes. Por mais que houvesse conhecido figuras ilustres da intelectualidade brasileira e internacional, manteve-se a parte de um conhecimento público mais vasto. Ainda jovem, acompanhou Claude Lévi-Strauss em terras Nambiquaras, como colaborador de língua inglesa í expedição[2].Desta experiência, surgiu sua primeira publicação: Entre os Olhos – O que não foi visto por uma expedição européia entre os Nambiquara da América do Sul[3], datada de 1942,vinda a público antes da publicação de Tristes Trópicos, obra do ilustre antropólogo francês. Nos anos cinqüenta, participou, ao lado dos irmãos Villas-Boas, de outra expedição, esta no Pará, para estudar os Ravé-Potí. Seu interesse era verificar os laços entre os ritos e imagens de passagem dos Ravé-Potí e sua tribo natal, no Quênia. Publicou em 1964 o ensaio O Oriente de Lá – Estudo Comparativo do Devir entre os Ravé-Potí e os Kummah[4].Esta tornou-se sua última publicação e o último registro de seu pensamento naquilo que ele hoje chama de “dialeto acadêmico” ou de “pornografia intelectual”, referindo-se ao gosto universitário em “transmutar todo pensamento, livre e fluxo por natureza, em papel e pedra”. Após a publicação de “O Oriente de Lá”, sentiu-se profundamente cansado em tentar conciliar a natureza “pequena e tribal” de seu raciocínio, gerado no Quênia, com a grandiloqüência da ciência ocidental que havia lhe chegado através dos filtros ingleses de Cambridge.
De volta í ífrica, abandonou seu emprego de professor na Universidade de Nairobi e montou bases em sua terra natal de onde sai periodicamente para divulgar suas idéias na forma de palestras ou de conversas individuais demoradas com “aqueles que detecto como micro-partículas de algumas modificações lentas do que virá”.
Foram ao todo, entre nós, quatro encontros. Sempre na varanda do pequeno restaurante do Hotel Central, na Boa Vista. Eu chegava em torno das três da tarde, como havíamos marcado antecipadamente. Sentado sempre na mesma poltrona de aparência muito confortável, mais assemelhada a um útero, de tão profundo era o seu acomodar, estava Lawrence Jakimo Pokot, fumando lentamente seu já terceiro maço de cigarros com filtro. Afundado nesta poltrona, seu corpo negro e franzino, já enrugado, alternava gestos ágeis e nervosos, com uma calma e silêncio tumulares. Em duas de nossas conversas, instalou-se um silêncio profundo. Silêncio este tão persistente que não o suportando, por duas vezes levantei de minha cadeira e parti. Quando cheguei a calçada do hotel, ouvi sua voz vinda da varanda: “Não foram vocês que criaram o tempo lógico? Por que tanto espanto? Estarei aqui amanhã, na mesma hora”.
Nestes encontros, Pokot falou-me de sua afeição especial por esta região específica do Brasil, o Nordeste, e de seu deleite pelo carnaval negro do Recife. Contou-me ainda de como tomou conhecimento da obra do filósofo Evaldo Coutinho, através de A Visão Existenciadora, que lhe chegara as mãos numa edição pirata impressa na Argélia. Além de ouvir os tambores que rufavam no bairro de São José, Pokot tinha como intenção encontrar-se com este homem que, para ele, tinha construído um dos mais belos sistemas de “para-filosofia” e “para-literatura” da língua portuguesa.
Em seu pensamento, parcialmente expresso aqui, reparam-se traços do que seria para nós uma análise antropológica. Porém, naquilo que a antropologia possui em comum com a filosofia: a busca por uma análise básica do Homem. Cá e acolá etnográfico, Pokot impõe sua noção peculiar de espaço e tempo nos ritos de passagem, francamente baseada na experiência específica de seu povo de origem, os Kummah. Se Van Gennep vê nos ritos de passagem a função de mudança de status social do indivíduo[5]; se a psicóloga Monique Augras, inspirada no próprio Gennep, sugere que na passagem “vai-se de um ponto para outro”, que “é uma imagem altamente espacial”[6], Pokot irá sugerir uma outra visão: “a passagem não é objetual, não é verificável através dos olhos”[7]. Utilizando-se do caso Kummah, nos diz que a passagem desdobraría-se indefinidamente durante todo o correr da vida, entre dois pontos: nascimento e morte.
Já no primeiro de nossos encontros expus-lhe meu projeto, já em andamento, de nomear com palavras criadas por mim, sensações íntimas, complexas que, exatamente por serem absolutamente pessoais, carecem de uma denominação e, por conseqüência, de uma dicionarização. Trata-se de um trabalho lento, disse-lhe. Em um ano de trabalho havia escrito não mais que três verbetes. Falei-lhe da palavra que exporia em breve, em forma de vídeo-instalação, naquela que seria a minha primeira exposição individual. Foi ele que alertou-me do caráter votivo e do desejo de passagem que estavam evidentes em Aveclo.
O que levo a público agora é apenas o conteúdo de nossa primeira tarde juntos. Tendo este encontro versado sobre passagem, sobre o desejo latente que habita objetos e palavras e, por conseqüência, sobre arte, achei conveniente separá-lo dos outros assuntos abordados por ele e por mim em nossos encontros.
Foi ele que deu início a esta nossa primeira conversa, com seu português só não perfeito por ser levemente contaminado por um estranho sotaque, mistura de inglês britânico e tacuch, sua língua natal.
Pokot: Estou contente que esteja aqui, que tenha me tornado uma referência constitutiva para você. Mas, porquê quis ligar meu nome ao termo “místico”, quando citou-me naquela publicação? Publicação, diga-se de passagem, difícil de dignificar a presença do nome de qualquer indivíduo…
Marcelo: Ingenuidade minha. Desculpe-me. Não encontrei o termo exato para defini-lo. O senhor bem sabe que entre nós, para nos sentir compreendendo, precisamos isolar os fatos e nomeá-los.
Pokot: Sei, meu amigo. Vocês batizam as coisas se utilizando de nomes velhos, pré-existentes. Nomes firmes perante o texto histórico que vocês aceitam como legitimador. Mas, chamar-me de místico seria reduzir-me a uma nomenclatura que vocês próprios desrespeitam. Trata-se de uma palavra que um dia referiu-se a algo existente. Porém, dela pouco ou nada sobreviveu. Vocês preferiram optar – se é que é dada ao homem qualquer opção – por uma espécie de realismo, que de tão real, tornou-se fantástico. Creio que daí, deste realismo estriônico, podem surgir outros fluxos, ainda inauditos.
Marcelo: O que o senhor quer dizer com “outros fluxos”?
Pokot: Tudo se comporta como sopros que oferecem aos nossos olhos a possibilidade de ver, simultaneamente, a parte de dentro da pele de um leopardo e a parte de fora desta mesma pele felina. Elas não se apresentam como duas superfícies diversas. São uma. O aprimoramento desta vontade de capturar a realidade acabou por levar seu povo para um lugar exatamente oposto a concretude dos fatos e das coisas. E, consequentemente, acabamos por nos encontrar num ponto deveras comum, nós representantes das chamadas “sociedades primitivas” e vocês, mantenedores desta dita “sociedade complexa”: a presença onipresente da imagem. A imagem, como você bem sabe, é o idílio da coisa real. Apoiados na imagem, levados pelas mãos, por seus caminhos, podemos chegar muito longe. Para além daqui. Assim, podemos antever o que virá, caso sejamos sensíveis a tais sopros.
Marcelo: O senhor parece estar sugerindo que é possível antever o futuro…
Pokot: O que é o futuro?
Marcelo: Bem, aquilo que ocorrerá daqui há, digamos, vinte e quatro horas.
Pokot: E quando não se usa relógio?
Marcelo: Ora… pode-se usar o sol, a lua ou a alternância das estações do ano.
Pokot: Vocês pensam no tempo como algo que corre e escorre por nossos corpos, meu bom amigo… Vêem a ilusão do tempo quando os cabelos rareiam, as peles enrugam, os descendentes crescem, morrem, quando algo ou alguém se afasta de vocês. Nestas tipologias de visão, vocês se imaginam como algo pertencente a um lugar anterior ou posterior ao atual. Mas, para nós Kummah, como disse, isto não existe: trata-se de uma ilusão. E, vale a pena dizer: uma ilusão infernal, verdadeiramente o haliob. Em nossa estrutura pessoal e, por extensão cultural, não nos verificamos como uma mesma pessoa durante muito tempo. Podemos ser batizados e ganhar um nome diferente quantas vezes for necessário, neste período que vai do jahamkat ao kathamjah[8].
Marcelo: A mudança de nome representa a finalização de uma passagem…
Pokot: Sim… De forma geral podemos pensar em passagem como um movimento, um movimento filiado ao tempo e nada devedor do espaço. Um movimento que leva alguém de um estado temporal a outro. Mas o tempo, como já lhe disse, é uma noção condicionada. Ele não é objetual. Por mais que reparemos nele impresso nas coisas, o que vemos não é o tempo em si, imaterial por essência, mas os rastros de sua ação que já efetuou-se. Assim, ele possuirá as mais variadas conformações. Van Gennep tenta descrever para vocês como a noção de tempo se comporta nos ritos de passagem de alguns lugares da ífrica Ocidental. São ritos de geração e morte. Que duram um período de tempo freqüentemente longo. E que ao fim deles é assegurada a mudança necessária. Mas entre nós, Kummah, a passagem se efetua como sentido desdobrado e perene, não como sentido fixo e temporalmente localizado. Por assim dizer, estamos vivendo um longo e ininterrupto processo de passagem… A nossa heteronomia ostensiva nos garante a manutenção da situação de mobilidade da passagem. O nome é prescrito por uma autoridade específica, que diagnostica a necessidade do indivíduo livrar-se de um objeto do passado. Prender-se a uma das feições desta ilusão, pode oferecer o haliob ao pobre sofredor.
Marcelo: Eu poderia traduzir haliob como “inferno”?
Pokot: Creio que não.
Marcelo: O senhor poderia me descrever o conceito desta palavra?
Pokot: Nada de conceitos, meu jovem, nada de conceitos… Você experimentou parte desta visão. Quando se detém a imagem, não necessita-se de conceitos.
Marcelo: Eu experimentei ? Como assim?
Pokot: [ Silêncio]
Marcelo: Quantos nomes uma pessoa pode assumir durante a vida?
Pokot: Quantos se fizerem necessários. Vou lhe relatar um caso desta nossa estrutura de heteronomia ostensiva. Existiu um velho homem entre nós que manteve-se inviolável por boa parte de sua vida. Durante uma noite de inverno teve um sonho pavoroso onde um mensageiro vindo do Katham-huruk[9] lhe avisava dos malefícios de manter-se casto durante muito tempo. Seu pênis iria penetrar-lhe as vísceras e fundir-se numa única estrutura de carne que lhe cobriria inclusive o ânus e nenhuma substância ou produto poderia ser expelido de seu corpo. Enxergou-se como um balão inflado até o limite de estourar e, finalmente, viu-se estourando e de si jorrando grandes quantidades de esperma, fezes, urina e sangue. Acordou naturalmente apavorado com a mensagem de alerta que lhe viera dos céus e resolveu consultar-me.
Marcelo: E como o senhor agiu?
Pokot: Ora, não sou homem diante do qual um sonho passa despercebido… Prescrevi-lhe um novo nome. Nome este, aliás que, reconheço, já deveria ter-lhe prescrito a muito mais tempo. Eu ainda era um novato na função. O fato é que estruturado pela liberação do nome anterior, que funcionava como um terrível objeto que o ancorava naquilo que vocês chamam de “passado”, o homem floresceu e novamente entrou no fluxo. Passou a experimentar todas as formas possíveis de liberação de seu sêmen. Para aquele homem, nenhuma diferença existia entre uma palmeira, um ser humano e um hou-hou[10].E cada uma destas experiências certamente o modificaria. Iriam torná-lo, de alguma forma, outro, deixando-o com muita rapidez, dono de periódicas novas estruturações e, consequentemente, detentor de novos nomes. Entrou em kathamjah já muito velho, tendo passado por cerca de cinco mil nomes, com o crânio rachado por um gorila.
Marcelo: Caso eu tenha entendido bem, o senhor está dizendo que vocês Kummah não possuem qualquer marcação cronológica?
Pokot: O tempo para vocês é externo. Ele lhes é ditado a sua revelia, montado sobre esta estranha estrutura que vocês chamam de trabalho e produto. Para nós, o tempo não é linha: é ponto. Não existe a conjugação pretérita do verbo ser, tampouco a futura. Quando nos referimos a idéia de Ser como indivíduo, apenas seria possível aplicarmos a forma de gerúndio. Trata-se de uma estrutura interna, baseada nesta bela palavra de sentido perene: sendo.
Marcelo: Mas o senhor referiu-se a esta figura de autoridade que prescreve os novos nomes para os indivíduos. Esta figura não funcionaria como um marcador de tempo externo, tal qual um relógio?
Pokot: Não. Não quando já se visitou o Haliob. Esta figura de autoridade, o puckotoch, está aqui e acolá. Nesta peculiar situação, vemos tudo. Vê esta marca em minha nuca? [ Pokot vira-se e apresenta uma profunda incisão de forma oval que mesmo os cabelos crespos não conseguiam esconder]
Marcelo: É uma marca muito profunda. O que isto significa?
Pokot: Esta forma amendoada tenta reproduzir a forma de um olho. Esta incisão foi feita com o pucko, instrumento ritual de ferro que penetra e calcina a pele até a estrutura óssea do crânio. Eu ainda era jovem quando foi passada para mim a função de manter fluida e assegurada a nossa heteronomia ostensiva. Foi esta marca que me dotou de um nome fixo, este que ainda hoje carrego e que representa a posição de puckotoch.
Marcelo: Puckotoch seria o homem que, tendo experimentado a visão do Haliob, foi alçado socialmente a esta posição de guardião da mobilidade nominal, estou certo?
Pokot: Quase isto, quase isto. Nasce-se predestinado a tal visão. Esta marca em minha nuca representa a integração das três formas de tempo conjugadas em mim e gravadas em meu corpo. De uma forma ou de outra todo homem possui, por natureza, a inscrição destas três formas na própria configuração de seus corpos. Pense em seu corpo caminhando por uma vereda… Existe o andar dos pés que experimenta as texturas da areia, as variadas temperaturas que o solo nos oferece, o conforto de pisar a terra fria, que estava í sombra de uma árvore. O corpo instala-se no presente absoluto. Nele, sentimos dores, prazeres, confortos e desconfortos, frios e calores que são manifestações sólidas da mais absoluta presentificação das coisas. Através destas sensações nos é revelado o teor do instante. Já a presença dos olhos, que vara vereda í dentro, nos retira do instante e nos oferece as possibilidades de configuração daquilo que virá: as curvas, a escuridão, o sol que se põe frente aos nossos olhos e nos ofusca, um possível lago a atravessar. Os olhos, sempre mirando para frente, nos oferece o símbolo do futuro, muito longe do agora. Mas ainda temos as costas. E, em especial, a nuca: esta nossa parte tão vulnerável. Este é nosso ponto cego. É o que deixamos para trás. É aquilo que nos permitiu chegar e estar experimentando o instante desta nossa caminhada pela vereda, mas que não mais avistamos. O passado e a configuração frágil e cega da nuca poderiam funcionar como uma boa imagem do Haliob.
Marcelo: O olho gravado na nuca teria o significado de enxergar todo o trajeto da vereda que ficou para trás, ou seja, ver o passado…
Pokot: É estar instalado todo o tempo, simultaneamente, nos três lugares. Por isso, í mim e a nós puckotoch é vetada a heteronomia. Foi-me reservada esta posição. Não posso experimentar a graça reservada aos comuns. Próximo da morte, quando transferir a chaga para a nuca de meu filho, poderei por fim ganhar outro nome e entrar em kathamjah.
Marcelo: Trata-se de um cargo passado de pai para filho, pelo que o senhor disse. Sempre é escolhido o primogênito para tal responsabilidade?
Pokot: Não. Tudo depende da cor dos ventos que envolveram o momento do nascimento da criança. Só aqueles que nasceram soprados por ventos róseos claros poderão assumir o posto.
Marcelo: O senhor quer dizer que os ventos possuem cores? Trata-se de uma simbologia ou…
Pokot: … ou concretude? Veja, meu jovem, é impossível medir ou estabelecer fronteiras firmes entre as duas coisas. Lembre-se de Cassirer, por exemplo, que já há tanto tempo esforçou-se para convencer vocês das incertezas na diferenciação entre estas duas coisas. Mas, o que interessa é que hoje, poucos são capazes de ver este fenômeno das cores do ar. Porém, mesmo entre vocês do mundo ocidental existem aqueles que perseveraram nesta percepção e tentaram defendê-la. Lembra do irlandês De Selby?
Marcelo: Nunca o li diretamente. Sempre através de Le Fournier ou de Hatchjaw & Basset.
Pokot: Em um livro seu intitulado “ílbum de Campo”, De Selby fala da presença de um “ar negro” que envolvia a Europa pouco antes da primeira grande guerra. A princípio, pensou que fosse o acúmulo de poluição das nascentes fábricas e indústrias. Mas logo se deu conta de que só ele vislumbrava tal coloração peculiar. Cor sempre premonitória de alguns eventos que estão por ocorrer a nível do corpo social. Seguindo este raciocínio que, como você vê, também foi percebido por um pensador ocidental, nós observamos a predominância da cor dos ventos que envolvem o recém nascido. Caso sejam róseos, ele terá uma vida longa e a fortaleza necessárias para ocupar o posto de puckotoch. A propósito, o próprio De Selby, em “Horas Douradas”, comenta a variação das cores de nascimento e também aponta para o róseo como a cor da longevidade.
Marcelo: Desviando um pouco o assunto, se o senhor me permitir, gostaria de falar de seus vínculos com nossa cultura. O senhor foi professor na Universidade de Nairobi, possuiu fortes vínculos com a antropologia e especificamente com a etnografia. Estudou em Cambridge, fala diversas línguas e ainda faz questão de viajar freqüentemente pelo mundo…
Pokot: [ Interrompendo]…já foi mais freqüente. Hoje prefiro estar entre os meus…
Marcelo: Mas, de qualquer forma, ainda faz este movimento, de estar lá e cá, não é? Como é possível coligar uma educação formal inglesa com o fato tão fundamental de o senhor ser um puckotoch?
Pokot: Este é um traço do caráter Kummah. Aos olhos estrangeiros, conciliamos, fundimos. Você deve saber o quanto somos diferentes de nossos vizinhos, os Nuer, descritos pelo meu colega Pritchard. Ao contrário deles, sempre violentos e ariscos com seus visitantes, nós somos receptivos. Não é difícil, para aqueles que possuem olhos argutos, desconfiar de gentileza e receptividade em excesso. Elas contém em si uma voz oposta. A nossa defesa, no que diz respeito a nossas relações com a alteridade, é baseada na mentira. É possível que sejamos o povo mais mentiroso, lúbrico e dissimulado da ífrica Central.
Marcelo: Como aconteceu? Me fale destes primeiros contatos com o ocidente…
Pokot: Nos apresentamos, a princípio, como um povo mudo. Provavelmente seríamos o primeiro povo geneticamente mudo da face da terra. Éramos, portanto, duplamente interessantes para nossos colonizadores. Assim, sendo uma cultura “só ouvidos”, a palavra de Jesus nos emprenharia com mais voluptuosidade. Durante o primeiro ano de presença dos missionários, nada falávamos. Só ouvíamos. Apenas balançávamos nossas cabeças em sinal negativo, acompanhado de um som gutural assemelhado a um “humrrum”. O gesto era dúbio, não restava dúvida. Mas a ânsia por uma imensa platéia, finalmente só ouvidos para a “palavra”, fez os missionários darem mais atenção ao “humrrum” do que ao negativo pendular de nossas cabeças. Eles se apaixonaram por nossa aparente docilidade. Porém, não estavam satisfeitos com o negativo pendular. Com muito trabalho, tentaram modificar o movimento da esquerda para a direita, indicativo de “não”, e substituí-lo por um mais adequado, que desloca a cabeça de cima para baixo, reforçando o “humrrum”. Quando finalmente o movimento de nossas cabeças aprumou-se, eles choraram de emoção. Mas tal foi a surpresa da missão quando verificou que o som gutural havia se transformado também. Enquanto nossas cabeças balançavam afirmando, das gargantas saía um outro muxoxo, um tanto quanto desalentador, um ruído lingual assemelhado a “tss, tss, tss”.
Marcelo: Povo ardiloso os Kummah…
Pokot: Trata-se de uma bela tradição. Eles ficaram muito impressionados quando já no segundo ano de mudez, falamos em conjunto a palavra yêh-zhúch. Eles imaginavam que haviam nos curado de nossa mudez orgânica, através da ação da fé e da aceitação de Jesus em nossos corações. O parentesco fonético entre yêh-zchúch e Je-sus, tornou-se um emblema da conversão para eles. O que eles demoraram a descobrir foi que em dialeto tacuch, esta palavra assemelhada ao nome de seu salvador, tinha o significado de “impotência sexual”, ou “homem que não cumpre com seus deveres de marido”.
Marcelo: A estrutura mentirosa de defesa cultural dos Kummah ajudou o senhor em sua carreira universitária em Cambridge?
Pokot: O fato é que a dissimulação e a mentira como traço de defesa cultural nos foi, e ainda é, elemento de grande utilidade. Através dela, passamos a dialogar mais altivamente com quem quer que fosse. Em Cambridge, fui considerado um dos mais próximos seguidores do método de campo do professor Malinowsky. Ele próprio, já um tanto esquecido, imputava a mim o título de herdeiro. Minhas qualidades Kummah qualidades de enorme plasticidade diante da alteridade, me credenciavam a experimentar o método de campo de Malinowsky com mais profundidade. Chamei meu método de “imersão aguda” e freqüentemente o apelidei de “método de compaixão etnográfica”, para me fazer mais claro aos ouvidos ocidentais. Mas, voltando a sua questão primeira, foi a plasticidade Kummah que agiu sobre mim e me dotou da possibilidade de trafegar entre povos os mais díspares. Somos uma cultura plástica, maleável, receptiva, mas a dissimulação e a mentira nos manteve a integridade. Trata-se de pensar a mentira não como traço de mal caratismo, como um lado assombreado da alma humana. Trata-se de reparar que os homens preferem ouvir “sins” do que “nãos”. Pode-se facilmente fazer alguém crer que estamos inteiramente convencidos, ou ainda, convertidos, de seus argumentos repetindo, durante uma conversa, periódicos “humrrum”, “certamente”, “claro, claro”. Este artifício enche de vaidade aquele que compulsivamente fala e que tenta convencer o mundo de suas magníficas percepções. O lado mal, a deformidade de caráter, sempre será do falador compulsivo, daquele que tenta engendrar a vastidão do mundo em sua teia particular de leituras. Me utilizei da vaidade alheia, do falador compulsivo, através de meus ouvidos bastante generosos. Em tacuch existe um termo que em muito pode elucidar as relações que travamos com outras tradições culturais. Este termo se aplica í s crianças. Chamamos aquelas que desobedecem em silêncio seus pais de tantuo-hou[11]. O meu método de compaixão etnográfica, surpreendeu meu velho professor, que me imaginava um de seus últimos e derradeiros cúmplices absolutos. Ele me aconselhava algo, eu dizia sim, mas continuava trilhando meu próprio caminho.
Marcelo: O fato de descrever os Kummah como o povo mais mentiroso da ífrica Central e sendo o senhor um Kummah, nós poderíamos desconfiar de todas as suas palavras nesta entrevista. Isto não o incomoda?
Pokot: [risos] É temerário, devo admitir. Mas cabe a vocês me julgar, não a mim. Entre
A mentira e a loucura existe uma delicada fronteira. Nós não acreditamos em nossas mentiras e isto nos faz apenas cínicos e gaiatos aos olhos alheios, mas nunca aos nossos próprios olhos. Vocês, ao contrário, acreditam em suas próprias mentiras, se desestruturam quando finalmente elas não podem ir í frente e isso faz de vocês um povo esquizofrênico. Esquizofrênico aos olhos de outros povos e até mesmo aos seus próprios olhos.
Marcelo: Diz um amigo meu, ex-seminarista Hilton Lacerda: “que a platéia acredite na mágica que se efetua no palco, nenhum problema. Porém, o mágico que acredita em sua própria mágica…”
Pokot: … existe uma grande diferença. Exatamente. Seu amigo está correto. Além do mais, a dissimulação entre nós é um elemento de defesa cultural.
Marcelo: Mudemos de assunto, senhor Pokot. Em uma de suas palestras, publicadas nos Anais de Psicologia Social da Universidade de Salamanca, tive a oportunidade de tomar contato com suas idéias sobre “objetos desejosos”. Caso eu não esteja enganado, o senhor iniciava falando de objetos simples que seriam presentificações do desejo de vir a ser e, posteriormente, falava de grandes edificações sociais que possuiriam o mesmo princípio desejoso. O senhor poderia expor mais uma vez estas idéias?
Pokot: Sim, claro, com muito prazer. Mas lembre-se que em Salamanca eu tive dois dias para expô-las.
Marcelo: Tenho todo o tempo necessário para o senhor…
Pokot: Obrigado, obrigado. Sua juventude é benevolente, como toda juventude. Sempre pensam que tem todo o tempo mundo… Mas, vamos adiante, não é ?
As palavras são a presentificação da ausência, estou certo? Quando eu falo: “ontem eu fui trabalhar”, estou evocando uma situação que já não existe. Estou presentificando uma ausência. Quando digo “gostaria de amar novamente” também estou presentificando o vazio físico de uma dada situação, que não está mais aqui, que apenas poderá vir a estar um dia. Existe uma marca fundamental na linguagem que é a eterna e constante construção e reconstrução daquilo que um dia existiu, e daquilo que um dia existirá. A linguagem se constrói aqui e agora, quando se fala, quando se escreve. Porém aquilo que a move, que a faz efetuar-se, não está aqui nem agora. Está antes ou depois do instante. A linguagem é instrumento desejoso, por tanto. É desejo de presentificação daquilo que, por natureza, é impossível de presentificar. Linguagem é evocação. Evocação e reconstrução. O elemento desejoso da linguagem pode ser verificado quando, periodicamente, olhamos um fato passado de nossas vidas e construímos um discurso qualquer, para nós mesmos, que justifique uma condição presente. Logo mais adiante, nossa vida muda novamente. Então olhamos para o mesmo fato passado e, estranhamente, enxergamos nele outra coisa e recontamos para nós mesmos uma outra história que dote de sentido a condição atual. Por ser desejosa, a condição natural da linguagem e do discurso é de reconstrução e construção. E de clara evocação daquilo que não existe.
Marcelo: Ludwig Wittgenstein se refere a linguagem como instrumento que tenta expressar aquilo que não é passível de ser expresso. Porém, é exatamente aquilo que não possui possibilidade de ser expresso é o que move, que movimenta a linguagem…
Pokot: Sim, sim. Gosto da idéia de Wittgenstein sobre o que movimenta a linguagem. Este lugar estranho e inacessível í comunicação. Esta fenda escura, aberta sob nossos pés, que funda todas as narrativas míticas da “origem” e do “sentido”…o “sentido das coisas”… o que dá sentido a uma proposição é algo imaterial, que não está na objetividade das palavras, dos fatos e dos objetos. Os fatos representados, os signos, são em si mortos, desprovidos de sentido. O sentido do signo não está no signo, está na imaterialidade da mente. De fato, o que move o dizer da linguagem é sua impossibilidade de tudo dizer.
Marcelo: E quanto aos “objetos desejosos”?
Pokot: O que vale para o discurso da palavra, vale para aquele dos objetos. Portanto, nos objetos está contido o desejo de ser. Eles são indicadores da ausência, assim como as palavras. Vê-se isso muito claramente quando pensamos na lógica dos “objetos votivos”, que vocês ocidentais abandonaram quando foram obrigados a escolher a lógica da arte como linguagem autônoma. Mas o que rege o objeto votivo é o mesmo núcleo que rege a obra de arte. E, provavelmente, vocês tenham esquecido disso. Vi aqui, na região Nordeste do Brasil, desde que estive aqui pela primeira vez antes de me juntar a equipe de Lévi-Strauss no mato Grosso, uma forte presença do objeto votivo. São os chamados “ex-votos”, não é?
Quando um homem esculpe em madeira seu tumor na cabeça, ele retira de si o tumor. Ele efetua seu desejo de livrar-se da doença, construindo-a em madeira, ou cera. O objeto não possui nenhuma autonomia lingüística. Ele não é “belo”, não é “feio”. Ele não é equilibrado plasticamente, e isto não é levado em conta como elemento essencial. Ele é desejo. Desejo latente. O objeto, no caso o ex-voto, que é um remanescente do objeto votivo e das estruturas pagãs de religião, é um receptáculo da ligação direta entre o crente e a divindade. Em si, ele nada é. Ele apenas é, para o crente e para a divindade a qual ele travou contato. O ex-voto é um exemplo claro da idéia de um objeto desejoso.
Marcelo: E o que vale para o ex-voto valeria para todo e qualquer objeto?
Pokot: De forma mais ou menos contundente, sim. Porém, para vocês ocidentais isto seria uma idéia difícil de defender e argumentar. Salamanca já aconteceu há muito tempo…
Quando penso no volume de tempo e dinheiro que o ocidente gasta preocupado com comunicação entre indivíduos, quando vejo a pulverização do corpo geral da sociedade em grupos e subgrupos étnicos, econômicos, religiosos, sexuais, sou levado a crer que a Internet e a informática são objetos desejosos. Eles são indicadores da ausência. E a ausência é a matéria construtora deste sentimento motriz, o desejo. Quando não há ausência, não há desejo.
Marcelo: Lembro-me do senhor se referir a arte ocidental como “um mal necessário”, que poderia alertar para a lógica dos objetos desejosos. O senhor poderia se estender um pouco a este respeito?
Pokot: É um mal necessário. Não gosto do que vocês chamam de arte. De nenhum tipo de arte. O que fazemos em minha aldeia é reverenciar a presença do mundo, não a ausência dele. E o que vocês fazem é um cultivo mórbido da ausência. Vocês perderam o elo com a transcendência e se lastimam disso, construindo uma estética. Estética é a tentativa de construção de um sucedâneo para o sentimento de orfandade que a modernidade lhes impôs. Quem crê não precisa de arte. Vocês estão a deriva. E, se saio do conforto de minha cultura secularmente imóvel, satisfeita, para me encontrar com vocês é por compaixão. É preciso reconstruir esta ponte. E penso que posso ajudar. Mas, quando entro neste lugar que para vocês possui o valor de um templo, o museu, e vejo esta multidão de almas desesperadas jogando grandes quantidades de tinta sobre tecidos e papeis; quando vejo um homem jogar-se no chão e, pateticamente, esfregar a mão em placas de metal em busca de concentração de energia, fico melancólico e penso que ainda levará muito tempo para vocês chegarem a alguma conclusão objetiva sobre o problema do “religare”.
Marcelo: O senhor referia-se ao artista alemão, Joseph Beuys?
Pokot: Sim. Tive a oportunidade de vê-lo efetuando uma solitária manifestação de fé na transcendência, com uma ação física. Ele agia como um pajé. Creio que batizou seu trabalho com um nome em latim, “Vitex Agnus Castus”, se não estou enganado. Mas para que um pajé se justifique, ele precisa de crentes. Por isso este artista agia para platéias, através de aulas, palestras, ou atividades grupais. Mas, confesso, era melancólico ver aquele homenzarrão, prostrado no chão, esfregando a mão besuntada de óleo em barras de ferro, tentando convencer a audiência da necessidade de transcender.
Marcelo: A arte como “mal necessário” possui, portanto, para o senhor, o sentido de que nela, na arte, existiria o princípio do objeto desejoso…
Pokot: A ação desesperada destes homens de tanta boa vontade indica uma ausência. Uma ausência fundante para seu povo. Quando a função imaginativa cedeu lugar para a função racional, a cultura cristã começou a adoecer. É possível que todo o desenvolvimento da função racional, e da crença absoluta na verdade da matéria, já estivesse contida no nascedouro da ética cristã em seus primórdios. Poucos povos possuíram um deus que efetivamente viveu, que se fez carne, e que deixou rastros concretos de sua vida terrena. Se Deus fez-se homem, naturalmente o passo seguinte seria: Deus não está no além, está entre nós, é o próprio homem, feito de carne e osso. Quando Deus é idéia, imagem inefável, pura transcendência, é provável que a materialidade das coisas continue sendo um dado insignificante da existência. Pois a Verdade estaria sempre para além daqui.
A arte para vocês funcionou e ainda continua funcionando como mecanismo compensatório para o excesso de carne e osso que impregnou suas idéias e seus corações. Se a cultura cristã é insaciavelmente desejosa, esta atividade que vocês crêem ser autônoma, a arte, acabará por catalisar pesadamente a ausência. Através dela, vocês teriam a oportunidade de enxergar seu ruído com a transcendência, seu desejo de escapar deste mundo de carne e osso que criaram para si próprios.
Um dia, é possível que vocês se livrem da estética. Por enquanto, ela é um dos pouquíssimos indícios, um dos raros canais de religare que resta a vocês. Por isso a arte é um mal necessário. Por enquanto, apenas existem pastores sem rebanho. Homens descabelados a beira de uma síncope nervosa.
Marcelo: Poderíamos dizer que todo objeto de arte possuiria algo básico de ex-voto, de objeto votivo. Toda obra de arte seria um objeto desejoso…
Pokot: Sim. Direta ou indiretamente, todo objeto de arte é desejoso e, portanto, indicador da ausência. Alguns artistas manifestam um tipo de desejo de expurgo. Certa feita, nos anos setenta, em Londres, visitei uma exposição que em muito me nauseou. Era um pintor que lembrava muito o expressionismo do início do século. Porém, concentradamente mais mórbido. Eram figuras humanas despedaçadas, em sangue…
Marcelo: Era Francis Bacon ?
Pokot: Não sei. Não gravei o nome desta pobre alma. Saí da exposição entre enauseado e preocupado não só com a saúde mental do pintor, porém com a fratura cultural que tinha forjado tal mente e, fundamentalmente, a doença social que ele acusava.
Marcelo: Certamente era Francis Bacon.
Pokot: De qualquer forma, a lógica do objeto desejoso estava lá. Ele retira de si, e por conseqüência, da sociedade, o tumor e materializa-o fora do corpo. Depois ele oferece a imagem materializada deste tumor para o templo sagrado, que no caso de vocês é o museu ou a galeria. Já o tal alemão pensa menos no tumor e mais no sucedâneo, na cura. A ação de esfregar as mãos nas barras de metal tentava divinizar ações as mais banais. Além de criar, obviamente, um cerco energético entre ele, o “pontífice”, a audiência e aquilo que está para além daqui. Creio que era ele que dizia “eu sou uma bateria”, referindo-se a idéia de que continha em si radiador de energia. Chegou-me através de amigos que freqüentaram a Sorbonne informações sobre uma xamã brasileira que trabalhava com um princípio mais propriamente curativo que o deste alemão. Creio que os germânicos tenham uma natural dificuldade de lhe dar com tais idéias… Para vocês brasileiros, sempre será mais fácil.
Marcelo: Creio que o senhor se refere a Lygia Clark, uma artista brasileira. Ela trabalhou com arte durante boa parte de sua vida, quando então passou a chamar o que fazia de “terapia”.
Pokot: Quem bom que esta senhora tenha tido a lucidez de trocar o nome de sua profissão. Não posso garantir que o novo batismo que ela escolheu seja dos melhores. Normalmente o nome, quando já é muito antigo, carrega muito peso sobre si. Acaba por esvaziar-se, ou ser incapaz de denominar ou conter novos fenômenos. O fato é que existem determinados fenômenos que falam do lado de fora das fronteiras disciplinares, que estão, por assim dizer, fora dos nomes. Sei que vocês costumam chamar de arte até produtos provindos dos manicômios…
Marcelo: Sempre tive dúvidas sobre a validade de denominar objetos produzidos por doentes mentais utilizando o termo “arte”.
Pokot: O problema nunca será do objeto. Ele precisa existir. Todos os objetos do mundo são necessidades, pois eles são conservadores do desejo de ocupar uma ausência. É claro que uma sociedade que produz objetos em excesso, que se desfaz muito facilmente daquilo que possui para pôr algo aparentemente novo no mesmo lugar, está indicando uma confusão qualquer. Pois esta compulsão pela renovação inscreve, indica, uma ausência, um vazio fundamental, de fato preocupante. Mas retornemos ao problema dos manicômios. Creio que os objetos produzidos por doentes mentais são objetos, tal qual são objetos aquilo produzido pelo pintor sanguinário de Londres. O problema sempre será daquilo que Lévi-Strauss chama de “grade”. Será sempre de disciplina do olhar. A questão sempre será: “o olhar que converge para o objeto vem de qual fronteira?”. Esta “grade”, que no caso do ocidente é uma grade de olhares disciplinados, oferecerá a possibilidade de abordagem e, consequentemente, de nomenclatura dos fatos e das coisas. Os doentes mentais, e seus primos segundos, os artistas e cientistas de fato criadores, estão apenas cumprindo a norma dialética entre ausência e desejo, estão construindo seus objetos. A esquizofrenia é, fundamentalmente, da grade, responsável que é pela possibilidade do olhar e da nomeação das coisas. É até mesmo triste reparar que os objetos sempre estarão no mundo. Basicamente eles sempre serão, se não os mesmos, porém muito próximos da forma que possuem hoje. O que definirá suas nomeações serão as novas conformações da grade. Aqueles, preocupados em nomeá-los, estão empreendendo uma tarefa marcada para morrer. Pois os objetos são sólidos, enquanto os nomeadores terão suas nomeações periodicamente alteradas.
Marcelo: É curioso… O senhor me falou sobre os objetos votivos e em janeiro deste ano tive acesso a um livro de Walter Burkert onde ele faz uma boa introdução aos credos pessoais, fora das religiões oficiais, existentes no mediterrâneo antes do cristianismo se tornar religião oficial de Roma. Estes credos pessoais tinham representações exatamente nos objetos votivos, nas dádivas oferecidas a certas divindades. Pensei que seriam objetos anti-estéticos, ou melhor dizendo, não-estéticos.
Pokot: Sim, sim. Conheço o livro. “Antigos Cultos de Mistério”. Para maiores aprofundamentos, procure informar-se sobre a obra do monge beneditino português Venâncio Pereira Alçadas. “Voz Votiva”: é este o título de seu livro. Nele, estão descritas grandes construções votivas no sul de Portugal e no norte da ífrica. E uma bela história é lá contada. Existiu uma grande cidade construída para que ninguém morasse. Era absolutamente vazia. Foi destruída pelos mouros em 1350. Conta Pereira Alçadas que a cidade fora construída por um homem de grandes posses, Cabrita Vinhas, em 52 D.C., como oferenda para Afrodite. A dádiva pedida í deusa do amor e da fertilidade em troca da cidade erguida era, sem dúvida, de caráter amoroso. A construção esférica dos ladrilhos que pavimentavam as ruas vazias e os símbolos circulares esculpidos em cada uma das esquinas indicavam isso. Em 1158 um descendente deste mesmo homem teria pedido uma outra graça í mesma divindade, desta vez uma ação votiva e não um objeto. No meio da cidade vazia, construída pelo seu ancestral, ele faria uma longa confissão de seus pecados. Após todo o correr de um dia ter se desenrolado, ele destruiria com as próprias mãos a cidade com o auxílio de um martelo e de um escopo. Tendo em vista que a cidade só foi destruída pelos mouros, devemos concluir que o pobre parente de Vinhas não teve muito sucesso em sua empreitada votiva.
O “taurobóleo”, rito muito difundido no mediterrâneo, que perde-se no passado, que encontramos referências até mesmo no “Katokochimoi”, de Eupalino de Mégara, é especialmente interessante. Neste caso, a vontade votiva desprende-se do objeto e torna-se temporal, rito. O indivíduo que evoca a divindade deveria matar um boi e banhar-se em seu sangue. Num ciclo de vinte anos deveria refazer a ação para, assim, reconstruir a “capa protetora” que precisava renovar-se, desgastada que estava ao fim de cada ciclo. Trata-se de uma constelação de “symbolon eutychies”, presente no taurobóleo. E todos se ligam ao desejo de boa vida terrena. Tanto o sangue quanto o animal, o touro, são elementos característicos das pulsões de terra.
Marcelo: Nos anos sessenta surgiu um grupo de artistas plásticos chamado “O Grupo de Viena”. Eles utilizaram-se de sacrifícios animais, banhos de sangue, auto mutilações…
Pokot: Nunca ouvi falar. Mas, ao que parece, este grupo era um pouco mais desesperado que o artista estripador de Londres, não? [ risos]
Marcelo: Porém, dentro de seu próprio raciocínio, eles estariam manifestando uma “ausência”, tentando ocupá-la com suas ações físicas. O “Teatro de Orgia e Mistério”, de Herman Nitsch possuiria parentescos com o rito do taurobóleo que o senhor acabou de descrever.
Pokot: Sim, sempre existirão parentescos entre quaisquer que sejam os fatos humanos. Mas, como já disse, tudo variará dependendo da conformação do olhar que se debruça sobre os fatos e as coisas. Pois os fatos e as coisas sempre estarão como sempre foram. É possível que o olhar disciplinar, que caracteriza o ocidente esteja modificando-se. Por conseguinte, traçando novos parentescos entre fatos e coisas. Mas, é bom lembrar: o taurobóleo não possui vontade estética., apenas vontade de fé e diálogo com o divino. Não trata-se de um fetiche-objeto esvaziado, como é o caso da obra de arte. Ele, o taurobóleo, evoca forças reais. O elemento dionisíaco deste tipo de arte que você me descreve esboça um desejo de mistério, mas não creio que seja capaz de provocar o numinoso, esta estreita porta que conduz apenas um homem, individualmente, até a imagem do mistério. Estes fenômenos artísticos lembram os ritos por serem temporais. Por dissolverem o objeto ( por excelência o indicador do espaço) em movimento ( que é em si a representação do correr do tempo). Mas, como disse, ao meu ver, são ritos desapegados. São o desejo de numinoso. Além do mais o rito real possui um, digamos, “roteiro” cuja origem perde-se no passado de pais, avós e bisavós… Pelo fato do rito não possuir um criador-indivíduo e sim um criador-social, ele possui um caráter agregador. Tratam-se de códigos compartilhados. Não é o caso desse tipo de arte que você me descreve. E especificamente da arte do século XX, que caracteriza-se exatamente por ser desagregadora. Ela cinde a sociedade por criar códigos novos e descartar aqueles secularizados.
Marcelo: Vejo que o senhor está cansado…
Pokot: É possível. Como lhe disse, arte me cansa. Gostaria de preparar-me para o encontro de amanhã com o professor Evaldo Coutinho.
Marcelo: Antes que encerremos este encontro, gostaria que dissesse-me o que o fez visitar o Recife durante o carnaval.
Pokot: Antes de qualquer coisa lembre-se que este é um dos três berços onde nasceu sua nação. Não a toa os três berços tomaram para si a mesma auto-representação: o carnaval, o grito dionisíaco “euhai”. Assim, podemos conhecer um povo. Vai-se em direção í sua auto-imagem. Ela representará seu desejo de ser. Em torno dela, pode-se enxergar as cores do ar. Não vê ? [ Pokot olha em torno de si, mirando o vazio, e inspirando forte] São lilazes.
Marcelo: O que indicam ?
Pokot: [Silêncio] Procure nas “Horas Douradas”, de De Selby. Mas, voltando a falar sobre minha viagem, devo dizer-lhe que a leitura dos escritos solipsistas de Evaldo Coutinho moveram-me em direção ao Recife.
Marcelo: Faz idéia de como seus escritos chegaram í Argélia?
Pokot: Via universidade de Salamanca. “A Visão Existenciadora” foi traduzida por um jovem estudante de filosofia, Xeriar Meursault. Ao que parece, o conceito de “existenciação” do professor Evaldo Coutinho, goza de um prestígio crescente entre os jovens argelinos. No que diz respeito a mim, vejo-o como construtor de um sistema para-filosófico de grande sensibilidade. Sua narrativa não se curva í aridez típica de boa parte da prosa filosófica do século XX. Possui contornos estilísticos visionários, como que assemelhados í aqueles dos grandes místicos do passado cristão, como San Juan de la Cruz que versava sobre o indizível: “deve-se dizer, mas não dizer”. Porém, sua mensagem parece ser inversa. Quando nos diz que por mais resistentes e perpetuáveis que sejam as coisas elas se fatalizam í efêmera duração da vida consciente do indivíduo, ele deposita todo o Ser do mundo no homem. É possível que vejamos no professor Evaldo também algum parentesco com a idéia de Shopenhauer do “mundo como vontade e representação”. Porém seu estilo, sua forma de construção textual indica uma espécie qualquer de intertextualidade. Algo além do que é dito expressamente, habita sua obra. Este algo parece ser uma voz mítica, provavelmente de caráter heróico, como indica a tradição cristã. “Eu fundo o mundo” é uma idéia claramente cristã… e é esta a idéia base de “A Visão Existenciadora”. Interessa-me muito reparar que, normalmente, quando um homem é acometido por uma imagem mítica primordial e dispõe-se a dar-lhe voz, esta voz toma contornos estilísticos muito rebuscados, como que iluminados, com ares visionários. Veja o estilo apocalíptico, assemelhado a São João, que costura as frases de Nietzsche, no “Zaratustra”. É como se a voz de formas arcaicas de pensamento necessitasse de uma sonoridade sempre curvilínea e nunca retilínea. Muito provavelmente, o professor Evaldo Coutinho não concordará comigo. Porém, devo expor-lhe minhas percepções. Existem outros aspectos muito interessantes na idéia do homem como o existenciador do mundo. A “composição alegórica”, como nos diz o professor, de “rostos e entrechos”, que o Ser do mundo nos oferece é única para cada indivíduo. A idade desta “alegoria” oferecida é a minha idade. Eu morro, o mundo morre. Por conseqüência também somos sujeitos do mundo alheio, do mundo composto, “existenciado”, por cada consciência que nos vislumbrou. Então quando alguém que nos conheceu morre, uma das nossas conformações de existência também morre. Trata-se de uma concepção de existência que levanta várias outras questões: se somos seres de linguagem; se as linguagens criadas são filtros que nos distanciam e nos impossibilitam de tomar contato com a realidade natural; se o nosso universo e nossa única realidade é o símbolo; se o símbolo, base da linguagem, é convencionado socialmente; se lemos o mundo a partir destas convenções, qual seria a medida de nossa individualidade, qual seria a fronteira entre aquilo que é pessoal e intransferível e aquilo que, criado pelos limites impostos pela convenção, é social? Seria possível delimitar uma fronteira? A inflação aparente do ego, representada por “A Visão Existenciadora”, já não denunciaria o esgarçamento desta estrutura, o ego, neste final de milênio cristão? Inflacionando o ego, estrutura existenciadora do Ser do mundo, o professor Evaldo Coutinho não estaria, num movimento compensatório, alertando para o risco desta dissolução egóica que o ocidente vive? Pense que, mesmo de estilo aparentado ao de San Juan la Cruz, este filósofo brasileiro é contemporâneo da filosofia européia dos anos 60 e 70. Foi esta filosofia que desapropriou as dores do indivíduo, derramando-as no corpo social…
[1] Jornal que circulou nas cidades de Olinda e Recife, em agosto de 1997, como forma de divulgação do evento multi-mídia “Mônadas”, que teve como local a antiga fábrica de tecelagem Tacaruna.
[2] Em Tristes Trópicos ( São Paulo: Ed. Companhia das Letras, 1996, pag. 248), Claude Lévi-Strauss não se refere nominalmente aos seus colaboradores na expedição Nambiquara. Apenas indica: “a expedição incluía de início quatro pessoas que formavam o pessoal científico, e sabíamos muito bem que nosso êxito, nossa segurança e até nossas vidas dependeriam da fidelidade e da competência da equipe que eu ia contratar”. O antropólogo Edmund Leach, em seu ensaio Lévi-Strauss ( São Paulo: Ed. Cultrix, 1970, pag. 12), nos diz sobre a expedição Nambiquara: “Os detalhes desta expedição são difíceis de determinar. Inicialmente, Lévi-Strauss teve dois companheiros científicos empenhados em outras espécies de pesquisa. O grupo deixou sua base em Cuiabá, em junho de 1938, e atingiu a confluência do rio Madeira e Machado no fim desse ano. Segundo parece, estiveram em movimento o tempo quase todo”. Não se sabe ao certo o motivo do ilustre antropólogo ter se furtado de dar o nome dos demais cientistas que compuseram esta expedição.
[3] Between the Eyes – What has not been seen by an European expedition among the Nambiquara in the South America (Cambridge Mass, 1942).
[4] The East There – A comparative study of the becoming between the Ravé-Potí and the Kummah
(Cambridge Mass, 1964).
[5] Ver Les Rites de Passage ( Paris: Nourry, 1909)
[6] Ver Passagem: Morte e Renascimento ( In “O Imaginário e a Simbologia da Passagem”, Danielle Perin Rocha Pitta (org.), 1984, Ed. Massangana Recife, PE, pag. 35).
[7] Em O Oriente de Lá – Estudo Comparativo do Devir Entre os Ravé-Potí e os Kummah (Cambridge, Mass. 1964, pag. 204), Pokot discorre sobre o tema da Passagem como fenômeno de ordem psíquica, individual, processado portanto dentro de uma outra ordem temporal. Diz-nos Pokot: “Passage as a rite is a social aggregator, a permission-obligation of change given to the individual by his group . However, the passage is not always really consolidated. Often, one verifies that the social arrangement was not enthroned at the psychic time of the individual who has been through the rite” E usando o exemplo dos Ravé-Potí, nos diz mais adiante: “In the cases of bodies emptied from a new order, that have made use only of the sacred riteââ?¬â?¢s appearance, the Ravé-Potí usually make the individual in question swallow clay to the point of nearly suffocation with the intention to fulfill his deep emptiness”.
[8] Em idioma tacuch, o equivalente ao termo “nascimento” é “jahamkat”, que se traduzido rigorosamente, significaria “lá vem”. Para nossa “morte”, os Kummah possuem o termo ââ?¬Ë?kathamjah”, uma inversão de sílabas que poderia ser traduzido como “evaporou”.
[9] “Katham-huruk”, palavra mista, englobaria em si algo próximo de nosso conceito cristão de “além”, ou seja, o lugar para onde iríamos após-morte e, no caso dos Kummah, entrarem em “kathamjah”. Porém, é importante atentarmos que o termo “huruk”, usado separadamente, pode denominar em tacuch tanto “fezes bovinas”, fertilizantes do solo, quanto “vagina da mulher amada”. Portanto, temos aqui um sentido muito ampliado da idéia de além.
[10] Espécie de cão do mato, que vive dos restos alimentares apodrecidos deixados por outros animais de maior porte. Parente da hiena, é habitante das margens do lago Victoria.
[11] Rigorosamente, tantuo-hou significaria “criança cujas orelhas foram comidas por um hou-hou. Em português falado no Nordeste brasileiro, estaria próximo de criança “malouvida”.